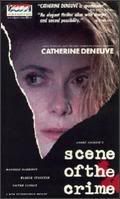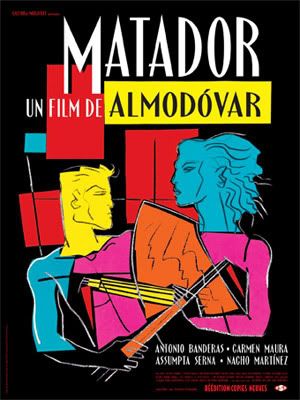29 dezembro 2007
27 dezembro 2007
24 dezembro 2007
21 dezembro 2007
20 dezembro 2007
14 dezembro 2007
Três pequenas notas sobre três grandes filmes
 1) Fazendo a analogia com o Futebol Clube do Porto, de que Aki Kaurismaki é adepto, o cinema do finlandês não é feito de Quaresmas. Não há irregularidade, nem há momentos de magia que justifiquem os momentos mortos em campo. A arte de Kaurismaki é mais como o antigo centro-campista André: rigor, disciplina, capacidade de trabalho e perseverança. Luzes no Crepúsculo é frontal, não inventa para lá da sua visão, é brutalmente eficaz e tem uma visão ética e estética própria, de que não abdica por nada. Nos seus sentimentos puros, na sua economia, na perfeição dos seus planos e na humanidade das suas personagens, é de longe um dos melhores do ano. Os Quaresmas ganham jogos; os Andrés ganham campeonatos, mesmo que não se lhes preste a atenção devida.
1) Fazendo a analogia com o Futebol Clube do Porto, de que Aki Kaurismaki é adepto, o cinema do finlandês não é feito de Quaresmas. Não há irregularidade, nem há momentos de magia que justifiquem os momentos mortos em campo. A arte de Kaurismaki é mais como o antigo centro-campista André: rigor, disciplina, capacidade de trabalho e perseverança. Luzes no Crepúsculo é frontal, não inventa para lá da sua visão, é brutalmente eficaz e tem uma visão ética e estética própria, de que não abdica por nada. Nos seus sentimentos puros, na sua economia, na perfeição dos seus planos e na humanidade das suas personagens, é de longe um dos melhores do ano. Os Quaresmas ganham jogos; os Andrés ganham campeonatos, mesmo que não se lhes preste a atenção devida.  2) “The self-destructive tortured-artist routine was bullshit when Kurt Cobain did it, it was bullshit when Elliott Smith did it, and it's bullshit now”, escreve Douglas Wolk no Pitchfokmedia. Control, estreia de Anton Corbjin na realização, vale precisamente pela sua recusa do martírio da estrela rock. Não é que os casos citados em epígrafe, tal como Ian Curtis, não tenham resultado em dois suicídios, atestando assim alguma verosimilhança aos sentimentos cantados; trata-se antes da desmistificação do lugar comum da estrela de rock torturada no que isso tem de mais previsível, de mais codificado e, consequentemente, de menos humano. Control é extraordinariamente bem filmado, num estilo directo e realista que não descura nunca o cuidado e a beleza formais – com especial destaque para o contraste do seu preto e branco – sabendo que os sentimentos ficaram em quem morreu e que qualquer palpite acerca do estado de espírito de alguém não passa disso mesmo. Com o Bird de Clint Eastwood, é o melhor biopic de uma figura ligada ao meio musical.
2) “The self-destructive tortured-artist routine was bullshit when Kurt Cobain did it, it was bullshit when Elliott Smith did it, and it's bullshit now”, escreve Douglas Wolk no Pitchfokmedia. Control, estreia de Anton Corbjin na realização, vale precisamente pela sua recusa do martírio da estrela rock. Não é que os casos citados em epígrafe, tal como Ian Curtis, não tenham resultado em dois suicídios, atestando assim alguma verosimilhança aos sentimentos cantados; trata-se antes da desmistificação do lugar comum da estrela de rock torturada no que isso tem de mais previsível, de mais codificado e, consequentemente, de menos humano. Control é extraordinariamente bem filmado, num estilo directo e realista que não descura nunca o cuidado e a beleza formais – com especial destaque para o contraste do seu preto e branco – sabendo que os sentimentos ficaram em quem morreu e que qualquer palpite acerca do estado de espírito de alguém não passa disso mesmo. Com o Bird de Clint Eastwood, é o melhor biopic de uma figura ligada ao meio musical.  3) Terminando com um regresso à analogia futebolística, Gus van Sant parece um daqueles avançados que fazem sempre a mesma desmarcação e marcam sempre golo. Continuando ma sua viagem pelos abismos da adolescência e com um constante fascínio pela desconstrução do movimento – presente nas inúmeras imagens em câmara lenta, técnica que o norte-americano parece ser dos poucos a dominar no presente – van Sant constrói com Paranoid Park mais um andar no seu sólido edifício estético, continuando a ser o mais próximo que temos de Tarkovsky. Nada acrescente ao que já lhe vimos, mas o maravilhamento não cessa. Porquê? Vejam a sequência da fogueira purificadora ao som de Elliott Smith e digam-nos quem mais faz cenas tão belas…
3) Terminando com um regresso à analogia futebolística, Gus van Sant parece um daqueles avançados que fazem sempre a mesma desmarcação e marcam sempre golo. Continuando ma sua viagem pelos abismos da adolescência e com um constante fascínio pela desconstrução do movimento – presente nas inúmeras imagens em câmara lenta, técnica que o norte-americano parece ser dos poucos a dominar no presente – van Sant constrói com Paranoid Park mais um andar no seu sólido edifício estético, continuando a ser o mais próximo que temos de Tarkovsky. Nada acrescente ao que já lhe vimos, mas o maravilhamento não cessa. Porquê? Vejam a sequência da fogueira purificadora ao som de Elliott Smith e digam-nos quem mais faz cenas tão belas… 06 dezembro 2007
É isto o amor?
De ambos, Rendez-Vous é o menos conseguido. Variação urbana, europeia e até algo niilista sobre A Star Is Born (1955), conta a história de Nina (novíssima Juliette Binoche), candidata a actriz que se muda para a cidade-luz e salta de cama em cama até se envolver num triângulo amoroso esquizóide com Paulot, tímido empregado de uma agência imobiliária que não a consegue possuir, e com Quentin (Lambert Wilson), companheiro de casa de este em modo kamikaze desde a morte da namorada. Co-escrito por Assayas, é um filme sobre o sacrifício e a tristeza necessários de aguentar para atingir o estrelato, acaba por ser prejudicado pelo seu romantismo excessivo, pela sua falta de medida certa no assumir da componente sentimental das personagens – há cenas de amantes e de loucura à chuva, bem como ameaças de suicídio e ataques com lâminas de barbear. Ao mesmo tempo, Téchiné não estava ainda na perfeita posse de todas as suas capacidades estéticas e formais. Se, por exemplo, a sequência do primeiro encontro entre Nina e o encenador interpretado por Jean-Louis Trintignant é francamente boa, nem sempre é conseguida a coexistência pacífica entre a câmara fixa e a câmara ao ombro, sendo que a procura do centro do enquadramento é muitas vezes demasiado óbvia.
Se Rendez-Vous é um filme menor, deve a sua importância a um factor: permitiu a subsequente existência de Le Lieu du Crime, um dos melhores filmes franceses da década de 1980. História de uma família dilacerada e das perturbações que nela causa o encontro com um fugitivo de uma cadeia nas redondezas, é um misto de film noir malsão com crónica das dificuldades de relacionamento familiar, desenvolve-se como um pesadelo rural, cada vez pior, cada vez mais negro. Juntando, pela segunda vez, Danielle Darrieux e Catherine Deneuve como mãe e filha (depois de Les Parapluies de Cherbourg e antes de Huit Femmes), numa espécie de genealogia do cinema francês moderno, trata a última hipótese de vida de uma mãe solteira dona de um pequeno bar, a par com o fim da infância do seu problemático descendente – aspecto excelentemente demonstrado na sequência em que apanha a mãe em pleno acto sexual com o fugitivo e pergunta “Cést ça l’amour?” Com os excessos românticos já controlados em larga medida, Téchiné, que contou com Pascal Bonitzer e Assayas na escrita do argumento, concentra-se no desenvolvimento das formas fílmicas e aparece aqui em pleno controle da sua arte, cheia de panorâmicas, de efeitos sonoros e com uma óptima concepção dos planos – veja-se o perfeito equilíbrio entre planos de conjunto, panorâmicas e planos aproximados na sequência da refeição familiar após a primeira comunhão do jovem. Ou então, no momento definidor do filme, o plano subjectivo de uma porta visto por Deneuve que, com um travelling para trás, se transforma num plano da actriz em pleno dilema, partir ou ficar, viver ou morrer, amar o definhar – numa crise parecida com a de Meryl Streep em The Bridges of Maddison County.
Com Le Lieu du Crime, André Téchiné cristalizou o seu lugar no cinema francês como um nome da modernidade, que nem por isso deixou de fazer filmes para o grande público. Este é um cinema de pessoas, de romantismo, de humanidade em todas as suas cambiantes, de comunicação com quem apreende as imagens. Pena que Les Voleurs (1996) ou Les Égares (2003) acabem por ser filmes menores dentro dessa conjuntura. E felizmente que o último Les Temps qui Changent (2004) estando abaixo das três grandes obras citadas no texto (Les Roseaux…, Ma Saison… e Le Lieu…) anunciou um regresso à boa forma. Agora resta esperar por Les Témoins (2007).
27 novembro 2007
O proverbial coração de ouro

De todos os momentos em que In a Lonely Place (1950) revela ao espectador a sua própria estrutura (a história de Althea Bruce que é a história do filme; Bogart a dizer a Graheme como são as boas cenas de amor), o mais eficaz é a frase que serve de epígrafe a este texto. Porque, ao longo da relação de Dixon Steele (o melhor desempenho de Humphrey Bogart) com Laurel Gray (Gloria Graheme a passear a classe conhecida de It’s a wonderful life, The Bad and the Beautiful ou The Big Heat), o que vemos é esse coração de ouro e a destruição paulatina a que é sujeito.
Dixon Steele é frágil. A sua propensão para a violência, mais do que um resquício da experiência na Segunda Guerra Mundial, é consequência da sua falta de controlo sobre o que o rodeia. No limite, essa pulsão é transportada para o seu meio – o do cinema – criticado pela sua arrogância, falta de integridade artística e desrespeito pelo passado (o produtor que deita a cinza dentro do copo do actor ébrio). De ego gigantesco (como diz Mel, o seu agente), precisa de sucesso, de aceitação de ser amado. Pior: precisa de o ser incondicionalmente. É o mesmo Mel que diz a Graheme: “If you love him, you gotta take the good with the bad”.
Quando Steele encontra Laurel Gray, encontra finalmente essa hipótese de aceitação total, de amor incondicional, que até então lhe escapara. No entanto, Gray não consegue (até por força das circunstâncias: o homicídio da jovem que recontou o livro a Steele, e de que este é suspeito, os sempre constantes espasmos de violência) e pelas diversas vozes que a lembram da propensão do argumentista para o uso da força (a mais viperina será talvez a massagista. Steele é então prejudicado pela ideia que os outros, os que não vêem o seu coração de ouro, fazem dele e pela interiorização que já fez da violência como modo de vida.
O fim da relação, previsível desde o início não só pela pressão a que os dois amanteis estão sujeitos e pela condenação a que estão sujeitas as personagens de Nicholas Ray, acarreta a morte em vida (“I died when she left me” – o plano final de Bogart, cabisbaixo, a entrar em casa, não deixa dúvidas). Num universo de mundaneidade – jantares, diz-que-disse nos meandros do cinema, porrada – a relação entre Gray e Steele era uma das poucas hipóteses de transcendência que ambos encontrariam. Mais trágico ainda, é o facto de nunca mais ninguém voltar a conhecer Dixon Steele na sua generosidade (as rosas que manda á jovem assassinada) ou na sua capacidade para assumir os erros (os 300 dólares enviados ao jovem que espancou à beira da estrada).
Filme maior na já de si imensa filmografia de Nicholas Ray, In a Lonely Place foi produzido por Humphrey Bogart através da sua companhia Santana Pictures, e pode ser entendido de um ponto de vista biográfico – não só pela eventual identificação entre Steele e Ray como pelo desmembrar do casamento entre o realizador e Graheme que ecoa. Para falar disso, existe a folha da Cinemateca, da autoria de Bénard da Costa. O que aqui está em causa é outra coisa. A dificuldade (impossibilidade?) de fazer passar num texto a emoção que se tem a ver um filme.
26 novembro 2007
22 novembro 2007
Da Weasel

Ao fazer tal coisa, sabemos estar a abrir um precedente sem retorno. A partir de agora, qualquer blogue, por mais refundido e anónimo que seja, vai achar que tem direito de antena no Lodo. Mas temos consciência disso e, como somos democráticos, acreditamos que todos têm direito aos seus cinco minutos de Lodo.
Lido bem com a minha insignificância. Bem melhor do que os galrinhos deste mundo, apostados em polémicas idiotas. Mas se é de tempo de antena que falamos, lembro este seu post em que, com a boçalidade do costume, agradece ao Hugo Alves o protagonismo que lhe deu. E bastava ter posto um link no Claquete…
O Miguel confessa ao mundo que quer ser crítico de cinema. É sempre bom ver um jovem no vigor da idade confessar que o seu objecto de vida é tão nobre e altruísta como ser crítico de cinema. É inspirador! Mas recentemente o Miguel tem-se demonstrado desencantado com a vida, triste e prestes a abandonar o seu sonho.
Caríssimo homónimo: nos meus sentimentos, projectos e desejos para a minha vida, mando eu. Discuta comigo sobre o que quiser, mas meta-se na sua, que é o melhor que faz.
Na verdade, achamos que ele tem até um perfil adequado para a crítica de cinema. Basta ver os exemplos da linhagem da contratação de críticos de cinema pelos nossos jornais e canais de televisão – Jorge Mourinha, Ana Markl, Marco Oliveira, etc. - para perceber que o Miguel tem todos as condições para lá chegar.
Achamos? Quem é a outra pessoa, por detrás do pseudónimo?
E, já agora, aproveito para dizer que as comparações com o Mourinha, com qualquer um dos Markl ou com o Oliveira não me chateiam nada. A partir de hoje, ficarei chateado é se me compararem com o Miguel Galrinho.
É neste momento que cabe, então, perguntar o seguinte: se, nos dias que se seguiram à publicação do referido texto, o Sound and Vision e o Viver Contra o Tempo tivessem fechado, seria justo comparar Miguel Domingues a uma doninha fedorenta que não merece importância? Impressionante como o autor de um dos textos críticos com objectivo mais duro e arrasador que se tem visto na blogosfera, é também quem reage desta forma a críticas que nem sequer lhe foram dirigidas: comparando-nos a animais de jardim zoológico.
Se sou insignificante, verdade que não contesto, como poderia ter contribuído para o fecho destes blogues? O mesmo se passa no que escrevi sobre vocês: esperava que não se vos desse a importância que vocês não têm (e não deram: o Nuno já aí está outra vez). E se não tivesse lido o que escreveu sobre mim, não vos tinha dado mais importância nenhuma.
Em todo o meu tempo de blogoesfera, tive apenas uma (1) querela pessoal, com o Francisco Valente. Em que, assumo, até podia ter agido diferentemente. Mas uma coisa é certa: fi-lo frontalmente, assinando com o meu nome. Insignificante sim, cobarde não. E fi-lo seguindo ideias minhas, mantendo uma coerência discutível, mas pessoal. É mais do que se pode dizer de vocês, que atacam a torto e a direito sem qualquer ética.
09 novembro 2007
Nem tudo é mau
Hannah and her sisters (1986) é o mais optimista dos filmes de Woody Allen. Drama burguês de evidentes ressonâncias bergmanianas (que extravasam a simples presença de Max von Sydow), coloca em jogo uma série de personagem ligadas, por motivos familiares ou conjugais, à Hannah do título (Mia Farrow). Filme sobre a busca pela paz de espírito na vida amorosa, desenvolve-se em saudável clima de peça tchekoviana, a um tempo conhecedora das fragilidades do ser humano e de todo o potencial redentor de que este se reveste.
Em meados dos anos 80, Allen havia atingido o topo das suas capacidades técnicas e Hannah and her sisters ganha com esse facto. Poucas vezes a câmara do nova-iorquino foi tão fluente e tão dominadora do ambiente em que estava envolvida. Um dos mais fascinantes aspectos deste filme é a sua brilhante conjugação do humor das personagens com os elementos atmosféricos em que foi feito. Note-se a cena invernil de Barbara Hershey, depois de consumada a traição, a caminhar à chuva, numa ideia de tristeza e confusão interior transmitida da maneira mais simples. Ou na brilhante cena em que Allen, a braços com um possível cancro, pensa estar sozinho no mundo e sai do hospital para uma rua deserta, que subitamente ganha vida quando este entra em fase de negação. Se a ideia que perpassa hoje de Allen é que faz o filme do costume da maneira mais fácil (preguiçosa?) possível, há cerca de 20 anos Allen fazia simples porque podia transmitir mais eficazmente as suas ideias. Hannah and her sisters é, então, um singular prodígio de economia, para o qual é difícil de arranjar par na filmografia do cineasta.
Contudo, a maior parte do mérito por esta brilhante peça de câmara, melhor, por este mosaico de pequenas peças de câmara, tem de ser dada ao argumento trabalhadíssimo e apurado, que, sustentado pela divisão em capítulos, completa um circulo em termos de acontecimentos. Sobretudo, há tempo e conhecimento para cada uma das personagens ser compreendida pelo espectador. Ajudadas por um excepcional grupo de actores (Allen, Farrow, Sydow, Barbara Hershey, Diane Wiest e o fantástico Michael Caine), tudo aqui ganha um realismo digno de algo que está realmente a ser vivido.
Acessível e quente, apesar de sempre complexo, Hannah and her sisters é, sem dúvida, um dos melhores Allens de sempre (ao lado de Annie Hall, Manhattan, Crimes and Misdemeanours e Everyone Says I Love You). A todos estes junta a sua crença de que tudo se resolverá, a esperança nas qualidades redentoras das relações humanas e o simples prazer de estar vivo. Quem diria que Woody Allen nos conseguiria reconciliar com a vida.
08 novembro 2007
04 novembro 2007
Quais salvar?
Il Gattopardo
Aurora
In a Lonely Place
Os Amantes Crucificados
Close-Up
E lembro-me de tantos mais. São quase todos importantes para mim, e toda a gente me diz que futuramente, terei de ter um escritório para os albergar a todos. Amanhã, decerto que a escolha seria algo diferente.
Como de costumes, deixo apenas o repto à magnífica Sandra e à Diana.
25 outubro 2007
Requiem

A saída do Nuno não me choca. Tenho cada vez mais vontade de o deixar de ler e de passar antes a ver os filmes dele – coisa que ainda não tive oportunidade de fazer. E sei que, sempre que a Cinemateca exibir um clássico imperdível ou, sobretudo, um filme japonês, ele lá estará, no centro da terceira fila.
O que motiva este post não é só o requiem por dois blogues. O ponto principal está no seguinte comentário da Cláudia ao post de despedida do Francisco:
“É notória a falta de energia que se observa nos blogs hoje em dia, poucas visitas, poucos ou nenhuns comentários, muitos (demasiados) fechar de portas...”
Têm entrado vozes interessantes (o Ursdens, o Luís Alves, o José Quintela Soares, etc.), é certo, mas pouco para o que uma blogoesfera cinéfila portuguesa poderia ser. E o pior é a forma como as coisas mudaram: eu e o Hugo temos menos tempo do que antigamente para escrever; o Daniel lá vai publicando, mas nem sempre textos cinéfilos, tendo muitos (embora nunca demasiados) interlúdios musicais e benfiquistas. O que tem, em larga medida, mantido o nível da blogoesfera cinéfila nacional é a centrifugação cinéfila da Cláudia, a bulimia fílmica da Helena e as diversas granadas do Tiago. De resto, andamos todos um pouco zombies.
Eu, por mim, já pouco me importo. Dificilmente a minha vida profissional passará pelo cinema e tentar ser jornalista já é trabalho de sobra. Talvez o principal problema seja que a Arte, a Cultura e o discurso crítico são mercados de trabalho muito complicados e a celulóide é um pouco indigesta. Mas custa-me perceber que o sonho da blogoesfera cinéfila ser um local vibrante de discussão, alternativa/porta de entrada (riscar o que não interessa) à crítica publicada e hobby principal de muito boa gente tenha durado seis meses (seis semanas?) em cada um de nós. Ou, pior, que esse sonho tenha existido apenas na minha cabeça.
Que se f*d* a taça.
PS - Coincidentemente, estes dois finais seguem-se a textos contra os respectivos autores na nova atracção da blogoesfera – atenção, atracção, da mesma maneira que as doninhas o são num jardim zoológico: achamos engraçado vê-las, mas o cheiro não deixa de ser pestilento. Espero que seja mera coincidência, pois gente desta não merece grande importância.
23 outubro 2007
Os Chapéus de Chuva de Paris

Juntando alguns dos melhores e mais famosos actores franceses desta geração (a melhor prestação, até ao momento, de Louis Garrel; o “efeito Frankenstein” de Chiara Mastroianni, cujo belo rosto lembra sempre o espectador dos dois monstros sagrados que a conceberam; Clotilde Hesme, de Les Amants Regulières; e a excepção Ludivine Sagnier, que me continua parecer mais peito que jeito), Les Chansons d’Amour é mais um pedaço de um tecido contínuo que continua a fixar-se nos dilemas sentimentais da burguesia parisiense, utilizando a cidade e as circunstâncias atmosféricas como parte integrante da acção e das inquietações das personagens. Numa Paris que nada tem de romântico, assemelhando-se muito mais a uma metrópole caótica onde a diversão anda de mãos dadas com a cultura (será para escapar desse caos que a irmã de Julie lê tanto?) uma “ménage à trois” é brutalmente interrompida pela morte imprevisível e estúpida de um dos vértices do triângulo. A partir daí, e sempre com um maior predomínio da personagem de Garrel, a bastante virtuosa câmara de Honoré segue o processo de luto das personagens que lhe eram próximas.
Tematicamente, então, também não há grandes diferenças em relação a Dans Paris, que se focava no processo de luto por uma relação recentemente terminada. O que sobra são as canções de Beaupain, algumas brilhantes (a gigantesca Ma Mémoire Sale à cabeça; de muito longe, seguem-na o “yéyé” perverso de Je n’aime que toi, a dolorosa Il faut se taire e o rock de J’ai cru entendre), uma ou outra menos boa (talvez Delta Charlie Delta, importante no desenrolar narrativo do filme, seja o elo mais fraco destes 14 temas). E o efeito seria bem menor se estas não existissem. Com uma qualidade em crescendo, Honoré parece, à medida que Les Chansons d’Amour avança, ficar cada vez mais confortável com a encenação das canções. As melhores sequências do filme são as coreografias das já referidas Il faut se taire (entre Garrel e Hesme), e Ma mémoire sale (já referi que é uma canção descomunal?) e J’ai cru entendre (ambas entre Garrel e Grégoire Leprince-Ringuet), todas no último terço do filme.
Asssim, só perto do final Les Chansons d’Amour se aproxima do potencial que parecia ter. Talvez o problema seja precisamente a ligação, por esta altura mais do que identificada, da estética de Honoré à Nouvelle Vague. Por mais bem-intencionado que seja o francês, 2007 não é 1957. Há algo de cristalizado no cinema de Honoré, por muito que, no que é o seu aspecto mais belo, um homem já se possa confortar, sentimental e sexualmente, com outro homem. E, já que estamos nisto, se estilisticamente a comparação até é lógica (daí o título deste texto), em termos qualitativos falar de Jacques Demy para caracterizar esta obra tem o seu quê de sacrílego.
Resumindo, Les Chansons d’Amour deixa uma questão no ar: para quando o golpe de asa que o talento e a capacidade de retratar relações humanas de Christophe Honoré já pedem?
19 outubro 2007
Algo a ver com a morte
Não é, contudo, na referencialidade leoniana que Almodóvar se baseia para dar forma a Matador. O apoteótico final de Duel in the Sun, visto por Nacho Rodriguez (o toureiro Diego Lopez) e por Assumpta Serna (a advogada Maria), é esclarecedor: estamos em pleno terreno da fusão do melodrama, não com o western (como no filme de Vidor) mas com o policial, o thriller e a tragédia. Com um estilo já perfeitamente delineado, onde se junta o kitsch espanhol (as decorações berrantes da casa de Lopez, uma sexualidade mediterrânea à flor da pele e um cosmopolitismo artístico de que a os bastidores do desfile de moda, dominado pelo estilista interpretado pelo próprio cineasta, são exemplo caricatural), aproveita elementos destes géneros (o voyeurismo à chuva das personagens de António Banderas, misto de Rear Window e Psycho; o muito vidoriano vermelho do eclipse final, o policia incerto quanto á culpabilidade do suspeito) para compor uma atmosfera malsã, digna de um pesadelo em technicolor. Aqui, o mais popular e conceituado cineasta ibérico aproveita toda uma economia estética norte-americana (planos rápidos, ausência de tempos mortos, um assinalável número de campos-contracampos e uma habilíssima utilização do plano picado e da montagem paralela) para fundar uma estética pessoal baseada na funcionalidade dos meios e nas idiossincrasias pessoais.
E, apesar de tudo, Almodóvar não deixa aqui de acrescentar um solidíssimo tijolo ao seu edifício completamente espanhol. Retrato de uma sociedade que nunca deixou de estar em guerra consigo mesma, mostra gente contaminada por todos os tipos de violência, desde as sufocantes mães-galinha de Eva e de Angél (novíssimo António Banderas), que usam a palavra e a religião, respectivamente, como meio de violência sobre os outros, à ocasional velhacaria autoritária do inspector interpretado por Eusébio Poncela, culminado nos dois amantes que só com a morte e na morte conseguem o tão almejado clímax. Está nesta morbidez erótica toda a chave de Matador, filme sobre a eterna ligação entre o sangue e o sémen – como o provam os planos das “partes baixas” dos toureiros enquanto estes treinam os seus golpes. Afinal, trata-se de um país que tem como desporto nacional a tortura ritualizada de um ser vivo.
Parte essencial do universo almodovariano, Matador é um objecto burilado até á exaustão, sem grande esforço aparente e, como já é habitual no cineasta espanhol, orquestrado como uma boneca russa em termos de argumentos e sensações. O universo de Almodôvar é sempre construído por camadas. Aqui, corresponde nesse universo a Espanha autofágica e contente por o ser. Apenas mais tarde viria a Espanha que perdeu o medo (Em Carne Viva, 1997), e a Espanha que procura a paz consigo mesma (Tudo sobre a minha mãe, 1999 e Volver, 2006)
18 outubro 2007
16 outubro 2007
Impressionante

10 outubro 2007
Notas da 'teca (3)
A pior parte de se ter dois empregos é precisamente a mais óbvia: o cansaço. Acumulado, mais do que doloroso, é paralisante. E os dias sucedem-se, monótonos e taciturnos, com o corpo pesado e tolhido de movimentos.
Na passada segunda-feira, desloquei-me à Cinemateca para ver Eve (1962) de Joseph Losey. À entrada, encontrei o Daniel, que me disse não ir ver A Segunda Geração de R. W. Fassbinder, precisamente com medo de adormecer devido ao cansaço.
Eve pareceu-me ser, cinematograficamente, um desastre. Rodado em Itália, já Losey se havia exilado após ter recusado comparecer perante a corja do senador McCarthy, foi amputado de 155 para 105 minutos. Barroco e excessivo, é uma variação da eterna história de perdição de um homem às mãos de uma mulher leviana e interesseira (Jeanne Moreau), de interesse reduzido nesta versão, pelo carácter confuso e fragmentado da narrativa.
E mais não sei dizer. Adormeci a meio da sessão. Não estava a gostar do filme, mas no final do filme estava incrivelmente frustrado. Afinal, paguei dois euros para fazer algo que todas as noites faço de borla em casa.
07 outubro 2007
06 outubro 2007
Novo Cinema Novo?
Vincadamente inspirado num imaginário americano de rebeldia adolescente (onde o Rebel Without a Cause de Nicholas Ray é influência óbvia), O Capacete Dourado impressiona pelo fulgurante talento visual do seu autor. Com uma intriga rudimentar, diálogos mínimos e, o mais das vezes, pouco importantes, o lado efervescente deste belo filme passa pelo seu sentido impressionista (a sequência de Jota e Margarida na barragem) e pelo cuidadíssimo sublinhar musical do que se vê (a extraordinária cena da festa de aniversário de Jota, ao som do Ocean Rain dos Echo & the Bunnymen). Filme sobre a vontade indomável de ar fresco e que, como todos os melhores desse tipo de filmes, que se passa principalmente nos momentos em que nada acontece, não pede qualquer empréstimo social. Por outras palavras, é irremediavelmente actual, sem querer documentar ou analisar costumes ou estratos. Abstracto e rarefeito, tem também nos corpos de Eduardo Frazão, Ana Moreira (o primeiro plano em que aparece é avassalador) e Rogério Samora a perfeita personificação das suas ideias.
Que Cramez queira filmar muitas e muitas vezes. E que Cramez, Nicolau e Martins possam ser um novo Cinema Novo.
Bem precisamos.
05 outubro 2007
As vespas
Quando soube que João Botelho se preparava para adaptar o livro daquela senhora, pensei: “Está a abanar um ninho de vespas”.
Vespa 1. Não estamos habituados a ficcionar eventos ocorridos há pouco tempo. Aliás, a própria ficção que procura nos “eventos reais” a sua inspiração ou caução é prática rara entre nós. Vendo bem, precisámos de 11 anos para produzir um filme sobre a guerra colonial (Um Adeus Português, Botelho, 1985) e cerca de 20 para produzir um sobre Camarate, talvez o maior trauma dos nossos 33 anos de democracia (Camarate, Luís Filipe Rocha, 2001).
Vespa 2. A segunda vespa é irmã da primeira. Num país onde é difícil ter uma conversa sobre bola que não seja marcada pela estupidez, pelo álcool ou pelo preconceito puro, pensaria Botelho conseguir que o seu filme fosse avaliado pelo seu carácter estético? Corrupção podia ser sobre casos envolvendo o FC Porto há 80 anos, o Sporting há 60 ou o SL Benfica há 40 que os respectivos adeptos não o veriam pela sua qualidade intrínseca. Mesmo o ocasional cinema político adaptado do neo-realismo literário português (quase todo filiado no ou caucionado pelo PCP) não causou metade da celeuma deste filme, que ainda por cima só estreia dentro de um mês.
Vespa 3. O abandono de João Botelho do filme que realizou e co-escreveu por alegadamente ter visto a montagem adulterada pela produtora é prova de uma ingenuidade atroz. Adaptou um livro que vendeu milhares de cópias e fez correr rios de tinta; foi, como ele próprio afirma na peça da Lusa e do Sol, “contratado" pela mesma empresa que transformou um dos maiores clássicos da literatura portuguesa numa orgia num subúrbio parecido com o Seixal; e deixou que o Correio da Manhã acompanhasse a rodagem a par e passo. Num contexto destes, como poderia o cineasta pensar que o deixariam fazer uma obra assente numa “arte cinematográfica pessoal (…) incompatível com qualquer generalização”? Terá Botelho querido entrar no cinema comercial sem se submeter às suas regras?
Vespa 4. Por tudo isto e embora tenha dúvidas, Corrupção até pode vir a ser tão bom quanto o filme de Fritz Lang com que partilha o seu título português, que a poeira causada por estas guerras de alecrim e manjerona impedirá que a maioria o perceba. E, caso seja verdade que a produtora adulterou a montagem elabora por Botelho, é sinal de que temos o pior da indústria (a falta de liberdade criativa) sem termos o que esta tem de melhor (a capacidade técnica estável).
01 outubro 2007
Filmes de Setembro
Torrebela de Thomas Harlan. (8/10)
Hairspray de Adam Shanckman (6/10)
China, China de João Pedro Rodrigues (7.5/10)
O Sabor da Melancia de Tsai Ming Liang (3/10)
Casa
Le lieu du crime de André Techiné (8/10)
Matador de Pedro Almodôvar (8.5/10)
The end of the affair (revisão) de Neil Jordan (6.75/10)
Fury de Fritz Lang (9/10)
O Sabor da Cereja (revisão) de Abbas Kiarostami (10/10)
Cinemateca
A tree grows in Brooklyn de Elia Kazan (7/10)
25 setembro 2007
Rali das Capelas (3)
A Lusomundo, não tenho vergonha de o dizer, foi uma escola para mim. Lá, vi Bringing out the dead, The 25th Hour, Space Cowboys, Moulin Rouge, American Psycho e Kill Bill Vol I, todos filmes relevantes e o hábito de ir regularmente ao cinema foi aí ganho, em saudosas sextas-feiras após jantar de fast-food, acompanhado pela minha prima Patrícia. Não os frequento hoje em dia, porque sei que tenho outras alternativas (incluídas no Medeia Card), porque a esmagadora maioria dos filmes que quero ver não lá passam e porque teria de levar com um público caótico e imaturo, mastigando alarvemente comestíveis doces. Se critico o modo de ver cinema que estes espaços preconizam, não deixaram de ser, contraditoriamente, importantes para mim.
No Mundial, outro galo cantou. Nunca o frequentei em período nocturno, aquele que, previsivelmente, mais gente lá levava. De tarde, deu-me sempre a impressão de ser um espaço decadente, que agradava apenas a meia dúzia de indefectíveis. Fica na minha história por ter sido onde vi Y tu mama tambien e In the mood for love e por ser um cinema onde havia sempre lugar para ler ou apenas descansar antes de cada sessão. A sua transformação em sala de teatro comercial não me surpreendeu, mas até gostava daquela enorme sala 1, ocupada por quatro ou cinco “fanáticos” e uns quantos reformados na sessão das 16:00.
Finalmente, o Nimas agrada-me pelas reposições e pela sua frescura. No Verão, mais do que no anódino Monumental, é na 5 de Outubro que a temperatura lisboeta baixa. Lá, lembro-me de não ter visto o Triple Agent (história guardada a sete chaves…), de ter tido azar com o lugar na reposição de O Leopardo e de ter descoberto Playtime e o genial Jacques Tati. E, reitero, lembro-me de aí ter encontrado um refúgio climatizado em muitos verões tórridos.
Rali das Capelas (2)
Rali das Capelas (1)
Da primeira vez que fui ao King, para ver O Grande Lebowski (no tempo em que ainda me interessava o que faziam os irmãos Coen) não tive o espaço em grande conta. Comparado com a sofisticação “pipoqueira” dos Lusomundo ou com a imponência do edifício do S. Jorge, pareceu-me encolhido, antiquado, refém de não ser um cinema para as massas. A segunda experiência foi determinante, para a minha cinéfilia e para o meu desenvolvimento pessoal.
Sábado à noite. Estava em casa, desesperado – como quase sempre acontece quando temos 15 anos – com a sensaboria dos sábados à noite. E resolvi chagar os meus pais para me levarem ao King, para ver o “Tudo sobre a minha mãe” de Pedro Almodôvar. A minha capacidade inata para chatear quem quer que seja conseguiu vergá-los, e lá me foram levar e, passadas duas horas, buscar.
Fui a última pessoa a comprar bilhete para aquela esgotadíssima sessão. Fiquei com uma coxia bafienta, daquelas antigas do King em que se o ocupante se inclinasse demasiado toda a fila corria o risco de ceder. A sala estava expectante e o filme instalou nela um silencio reverente. Não falarei aqui do “Tudo sobre a minha mãe”, um dos meus preferidos de sempre, mas filme e circunstância fundiram-se num momento único, ao ponto de hoje não me saber tão bem vê-lo em casa.
A partir daqui o King foi, no meu glossário, sinónimo de descoberta contemporânea. Lá, vi Rosetta dos irmãos Dardenne, Breaking the waves de Lars von Trier, O Quarto do Filho de Nanni Moretti, entre muitos outros. E foi lá, creio que numa sessão de A Pianista de Michael Haneke, que descobri o tremendo prazer invernil de entrar num filme à luz fria da tarde e sair dela na limpidez luminosa da noite gelada. Mais recentemente, vi lá diversas sessões do IndieLisboa, com um ambiente frenético. E ultrapassei o trauma de uma época menos bem conseguida na história daquele cinema, documentada aqui.
Finalmente, foi no King que, durante um momento, até pensei em ser crítico de cinema. A junção da palavra posterior com o cinema anterior é o mais belo coito existente. Foi naquele hall, entre as páginas dos jornais e as suas fotocópias, que o percebi. Para o bem e para o mal, foi lá que me nasceu o sonho.